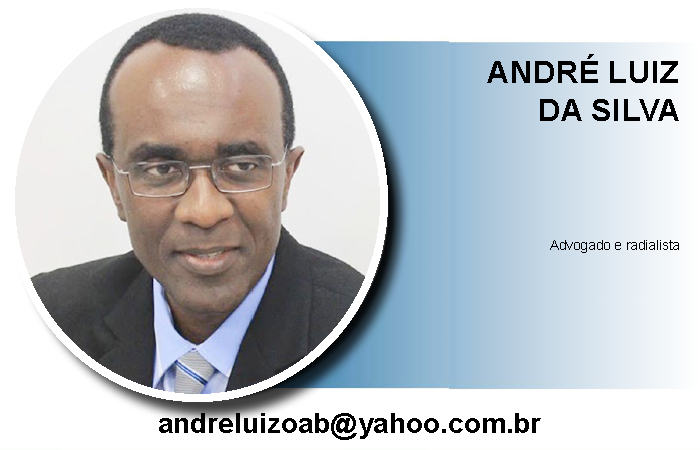André Luiz da Silva *
[email protected]
A célebre frase atribuída a Heródoto, “Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro”, não deve ser apenas lembrada, mas continuamente praticada. Analisar fatos exige uma visão ampla, livre das amarras ideológicas que frequentemente distorcem realidades, fabricam narrativas enganosas e, em muitos casos, pavimentam o caminho para tragédias.
Desde cedo, aprendi sobre o Holocausto e as atrocidades promovidas pelo regime nazista sob o comando de Adolf Hitler. Como muitos, cresci acreditando que ele representava o ápice da crueldade humana, indignado com o extermínio de milhões de judeus. Livros, filmes e o ensino formal reforçam essa memória, criando uma justa comoção global. No entanto, a perseguição sistemática a outros grupos – Testemunhas de Jeová, homossexuais, povos Roma e Sinti (frequentemente chamados de ciganos) e pessoas com deficiência – não recebeu a mesma atenção nem despertou a solidariedade internacional na mesma proporção.
Curiosamente, enquanto a história nazista é exaustivamente documentada e lembrada, um genocídio ainda mais brutal permanece na sombra do esquecimento. Entre 1885 e 1924, o rei belga Leopoldo II promoveu o massacre de mais de dez milhões de congoleses. Além das execuções em massa, milhões tiveram braços e mãos decepados em um sistema de terror para garantir a exploração de recursos como marfim e borracha. Diferente do Holocausto, essa tragédia não gerou comoção global, produções cinematográficas badaladas ou grandes manifestações de repúdio. O Congo, até hoje, carrega as feridas desse período, mergulhado em décadas de violência e instabilidade.
A análise das trajetórias de Hitler e Leopoldo II não deve se limitar às restrições de sua sede insana por poder e riqueza. É preciso questionar também o suporte que ambos receberam, tanto internamente quanto de outras nações. Nenhum ditador se sustenta sozinho. Multidões os seguiram, apoiaram seus projetos e, em troca de promessas ou benefícios, tornaram-se cúmplices da barbárie. Ainda mais inquietante é perceber que, em pleno século XXI, grupos neonazistas ressurgem pelo mundo, inclusive no Brasil, desafiando a memória e a civilização.
O mesmo olhar crítico deve ser aplicado no atual conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a indignação com as mortes e o sofrimento dos reféns israelenses agora devolvidos às suas famílias é legítimo. No entanto, essa mesma revolta deve se estender a milhares de vítimas palestinas, massacradas por um aparelho militar avassalador, em flagrantes violações dos direitos humanos.
Enquanto isso, líderes mundiais tomam decisões que expõem interesses geopolíticos camuflados por discursos de segurança e justiça. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, além de intensificar a degradante deportação em massa de imigrantes, sugeriu uma solução absurda para Gaza: remover toda a população palestina e transformar a região em uma espécie de “Riviera”, um paraíso imobiliário para investidores que miram as reservas estratégicas de petróleo e gás natural que o território abriga.
No Brasil, as tramas políticas seguem um roteiro semelhante ao cinema. A denúncia do Procurador-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do seu governo, por tentativa de Golpe de Estado, foi reforçada pela delação de Mauro Cid, revelando de maneira irrefutável um esquema para corroer a democracia. Ainda assim, em vez de rechaçar tais atos, mudanças políticas são articuladas na Lei da Ficha Limpa para reduzir o tempo de inelegibilidade de oito para dois anos e até projeto de anistia aos envolvidos foi apresentado. Curiosamente, os autores são os mesmos que defendem o endurecimento das penas e a redução da maioridade penal – desde que os acusados sejam “os outros”.
Mais do que nunca, é essencial revisitar o passado para entender o presente e projetar o futuro. Mas, sobretudo, é necessário romper com a indignação seletiva, que escolhe quais tragédias merecem ser lembradas e quais podem ser esquecidas.
* Servidor municipal, advogado, escritor e radialista
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. Aceitar Política de Privacidade
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com